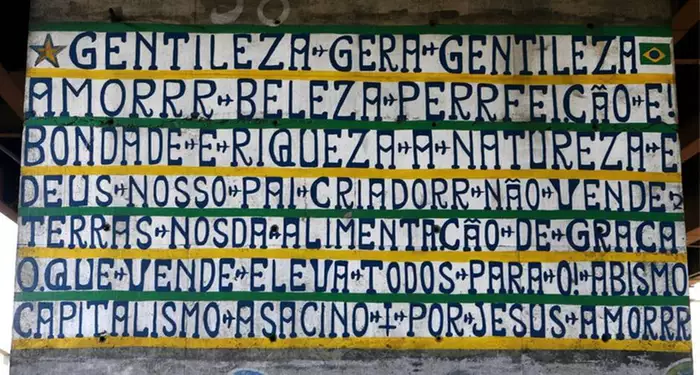O convite da MC Linn da Quebrada no funk “Enviadescer” já está feito. É tempo de debater sobre gênero, representação e transsexualidade na música também. Aos 26 anos, Linn traz estes temas ao seu discurso, cantando sobre sexo e resistência em hits dançantes. Atriz, aborda o gênero como performance, pesquisando sobre o próprio corpo e sua imagem. Mais do que plateia, busca criar por meio da arte uma rede de apoio e empoderamento àquelas que lhe acompanham.”O que eu tenho feito é falar das minhas fragilidades, mas transformá-las em potência. Sou bicha, trans, preta, periférica. É isso que me dá super poderes, que me faz forte”, diz.
Desde maio, quando lançou seu primeiro clipe, parte do seu discurso começou a ser conhecido fora da Fazenda da Juta, Zona Leste de São Paulo, onde mora e ministra encontros e oficinas em dois coletives. Há seis meses fez o seu primeiro show e agora tem oito músicas que pretende reunir em breve num EP. Na nossa conversa, falamos sobre ancestralidade, o poder do masculino, a época em que era Testemunha de Jeová, sobre ícones gays da música brasileira e a nova chamada Geração Tombamento ou, como prefere, a MPBicha.
Como tem sido os últimos meses desde que lançou “Enviadescer”?
A música é uma fase muito recente pra mim, tudo muito novo. Eu já atuava como performer e com teatro há pelo menos 4 anos, com uma pesquisa mais vertical relacionada à sexualidade de gênero. A minha grande surpresa tem sido perceber o alcance que a música proporcionou. Porque eu já estava falando de todas essas coisas em coletives de atuação e debates, mas com a música percebo mais retorno, as pessoas tem me devolvido. Parece que tá claro o que eu estou dizendo e, principalmente, as pessoas se reconhecem no que eu tenho dito. Bichas, pretas, trans, periféricas que tem ouvido a minha música, dizem que se identificam e se reconhecem nas histórias. Quando eu falo de mim, não falo só de mim. Quando falo de bicha preta, de enviadescer, estou falando de mais um monte de gente que também passa por essa mesma trajetória e que até então não tinham suas histórias reconhecidas nas músicas, no cinema, no teatro, na novela. Representação é muito importante, mas mais ainda é ter participação ou ver que é possível, sim, ocupar e estar nesses ambientes sendo quem você é. Não é preciso que uma outra pessoa, que não faça parte daquele contexto, te represente.
Nesses coletivos também rolam debates e a inclusão desses assuntos na periferia?
Sim, esse é um dos focos. São o Coletive Zoooom e Coletive Friccional. Coletive porque é uma intervenção na linguagem, não é coletivo e nem coletiva, é coletive. Também pelo verbo coletivar, um novo verbo, coletive-se, junte-se, forme grupos. Com o Coletive Zoooom, que atua na Zona Leste de São Paulo, ganhamos o VAI [Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais, feito pela Secretaria Municipal de Cultura] ano passado. Daí dirigi um grupo de adolescentes e criamos uma peça com as questões trazidas por elas. Não uma obra de ficção, mas uma fricção, entre a realidade e o material poético no qual a gente se baseou. Assim surgiu a peça “É pra copiar ou pra reescrever”, com adolescentes de 14 a 18 anos. Apresentamos em algumas escolas, no centro de São paulo, na Fazenda da Juta, onde eu moro e onde a maioria delas mora. Paralelo a esse projeto, o que ajudou a construí-lo, foi o que a gente chama de Espaço Aberto Para a Diverdisdade Sexual e de Gênero na Periferia. O Espaço Aberto é um molde de bate-papo onde não há palestrante, uma pessoa propõe um tema, fala um pouco e depois todo mundo discute. Falamos com adolescentes sobre pornografia, masturbação, religião, escola. A partir disso, desse material, a gente construiu o texto da peça. Thiago Felix dirigiu comigo e fizemos a dramaturgia também. Hoje, a cada mês uma pessoa é convidada pra falar sobre um tema, discutir viadagem, transsexualidade, política, música, mulher. Não se trata de levar informação pra periferia, mas produzir lá também, com as pessoas que estão lá.
https://www.youtube.com/watch?v=saZywh0FuEY&feature=youtu.be
E como começou essa luta?
Não foi uma coisa natural, foi construída. Venho de uma educação religiosa, de cidade de interior, vim pra São Paulo estudar arte. Uma vez, quando voltei a Rio Preto, uma amiga que estava se assumindo travesti disse que dentro do nosso grupo de amigas estava tendo uma certa resistência, pessoas dizendo ‘mas vc é tão bonito de menino, pra que virar travesti? Só se monta às vezes’. Ela disse algo que mudou a minha trajetória: ‘Você não sabe o que é se olhar todo dia no espelho e ter certeza de que o que está sendo refletido não é você’. A partir desse dia, eu comecei a utilizar o espelho como processo de investigação, meu corpo como material de pesquisa e incertezas. Não ter mais certeza sobre o que está refletido. Passei a pesquisar sobre minha imagem, como me vestia, qual interferência disso no teatro, dentro da sala de ensaio. Mas também fora da sala, na rua, como as pessoas me tratavam a partir disso. E daí começou o meu processo de politização e atuação dentro do meu próprio corpo. Eu acho que a gente vive um processo de representação dentro do nosso próprio corpo, representamos a nossa própria imagem do espelho, as certezas construídas por essa imagem, por toda sociedade, família, pela religião, pela escola. A gente representa um personagem que nós mesmos construímos. Então eu passei a criar e reinventar outros personagens dentro de mim. Percebi, principalmente, como gênero é uma performance. É uma forma como você atua dentro de si mesma. Aí foi o grande estopim de mudança na minha atuação comigo mesma.
Como artista também?
Como artista também. Pra mim, ser artista não tem a ver com palco, com gravar música necessariamente. É poder criar sobre a sua própria existência, sobre seu entorno e isso fazer diferença. Comecei a entender e inventar um novo sentido para criar. Na escola, a gente aprende aprende métodos de criação. Repetir métodos é uma coisa – se bem que sempre há diferença na repetição -, mas quando você entende o que levou a pessoa a criar e traduz isso pro seu contexto, você percebe como também pode criar. Todas nós podemos criar. Não precisa ter um respaldo e legitimidade midiática. Não precisa ter legitimidade da arte com A maiúsculo.

Pensando nisso, como você passou a criar funk?
Sempre tive próxima da margem, da marginalidade, da sarjeta e de tudo que é de certa forma rejeitado. O funk movimenta, me movimenta, mexe comigo literalmente. Eu vejo no funk uma potência de um discurso direto de intervenção e de construção da sexualidade. Todas os gêneros musicais tem isso, as músicas de amor que cantamos cotidianamente constroem afetos e fazem a gente sentir que é natural amar de uma certa forma. Mas eu posso inventar outras formas de me apaixonar e de sentir. Eu percebi isso no funk. Foi a partir de uma brincadeira em novembro do ano passado que fiz uma musiquinha. Mostrei pra alguém e falaram ‘nossa, isso é muito legal’. E continuei. Eu já estava dizendo todas essas coisas, mas, num jorro, quando eu vi tinha oito músicas escritas. O importante é não ter esse lugar sagrado que a arte às vezes nos coloca, onde é preciso do palco, do álbum, da legitimidade.Eu gosto do profano, da blasfêmia.
Então, quando falo de mim, estou falando de mais um monte de gente, não estou sozinha. Eu faço música pra sobreviver, pra me manter viva, pra construir uma rede de apoio. Não me interesso por fãs e plateia, mas sim em construir uma rede de apoio onde nós possamos nos fortalecer psicologicamente, emocionalmente, afetivamente, financeiramente. Porque isso também me mantém viva de forma econômica, mas quantas tem de abrir mão da sua própria estética e escolhas pra conseguir um trabalho? A construir uma rede de apoio inclusive sexual.Porque a sociedade constrói uma rede onde o feminino, independente de que corpo ele esteja, vai ser menosprezado. Onde a gente vanglorie o macho e que nos prostremos em prol do grande macho com a grande pica gotejante. Tudo que é feminino, a gente menospreza. Seja mulher, bicha, travesti, tudo que tiver a marca do feminino vai servir apenas servidão e sexo. O que eu tenho feito é falar das minhas fragilidades, mas transformá-las em potência. Sou bicha, trans, preta, periférica. É isso que me dá super poderes, que me faz forte.
Em “Talento”, você fala sobre o prazer masculino e sobre poder resistir.
https://www.youtube.com/watch?v=0YC6tw38qgA&feature=youtu.be
Você já conhecia a maioria delas?
Não, eu conheci a partir das oficinas do grupo Valéria, com Pedro Ávila e Caroline del Bue. Foram meses de encontros onde demos oficinas de música, figurino, passarela, costura. Isso é potencializar a nossa existência, esse é o talento. Pra ser tão viado e transviado assim, como nós somos, é preciso ter talento. É preciso sobreviver. Pra sobreviver tem que ter essa rede. Elas, mais do que nós, precisam ter uma estratégia pra sobreviver e se manter vivas. Estão muito mais vulneráveis do que eu, que sou de certa forma privilegiada. Quais são essas estratégias? Se manter viva em autoestima, na rua, no dia a dia. É tudo tão simples, a gente só quer viver, existir. Por isso os depoimentos são a parte fundamental. Eles me tiram do lugar de conforto.
E continua religiosa hoje?
Acredito na religião do meu corpo. Tenho proximidade com Candomblé e Umbanda, mas de outra forma. Talvez a religião tenha me traumatizado um pouco, tenha ficado cética demais.
O que acha desse movimento que tem sido chamado de Geração Tombamento?
Eu chamo de MPBeau ou Geração Tombamento ou MPBicha. Só bicha pensando. As biu são as mina, as mana, as mona, as meme. É curioso… a gente tem Ney, tinha Cazuza, Cássia Eller, Dzi Croquetes, Almôndegas. Quem tem a possibilidade de esquecer? Mas parece que o tempo todo estão tentando fazer a gente esquecer. Ter memória é privilégio. O que eu estou fazendo é construção memória. Esse movimento já aconteceu, mas é fácil de abafar, de ser só alternativa.

Talvez a diferença seja que hoje falamos abertamente.
Talvez antes não se falasse tanto sobre isso, ou, se falasse, era nas margens. Agora trazemos isso para outros lugares, de forma aberta, nós mesmos falando por nós mesmos. É muito importante e necessário que isso também seja trans, seja trânsito. Que os ícones que construímos sejam transitórios, que a gente não pense em deixar uma geração da MPBiu estabelecida eternamente. É preciso que outras pessoas venham e colocam a sua verdade. Não que os ícones não mereçam o aplauso permanente, mas é preciso olhar para outros lugares e ver que também tem gente interessante. E que talvez aqui do lado, fora do palco, na quebrada, no sarau próximo da sua casa, também tenha gente produzindo coisas interessantes. Não querer estabelecer ícones de forma eterna, porque e se eu não tiver nada de interessante depois desse álbum? Entrar em cena é importante, permanecer é primoroso. Mas sair é fundamental, contracenar. Eu não preciso estar em cena o tempo todo, ter o que dizer o tempo todo, tem outras pessoas além de mim. É importante na música também ter silêncio, passar a voz.
E com quem você gostaria de contracenar?
Nossa… com o público. É com quem eu mais quero contracenar e com quem estou contracenando agora nos shows. Com essas pessoas que eu estou construindo junto a minha música. Com a quebrada, com as quebradas.
***
Por Camila Alam no Red Bull.