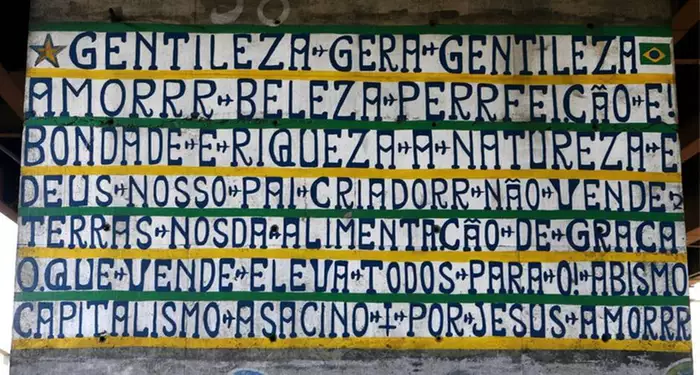“Voltou de férias, meu amigo?” Francisco Seixas grita do lado de lá do pátio, tão logo avista o recém-chegado. É uma manhã de terça-feira e passa pouco das 9 horas. Parado junto ao jardim da Casa do Migrante, José Kinvunzila – colete azul sobre a camiseta colorida, uma prancheta apertada com firmeza nas mãos – responde com um sorriso.
Um mês se passou desde a última vez que Kinvunzila pôs os pés ali. O prédio, mantido pela Igreja Católica na Rua do Glicério, centro de São Paulo, existe desde os anos 1930 – tempo em que acolhia imigrantes italianos. Hoje, abriga até 101 pessoas, todas recém-chegadas ao país. São homens, mulheres e famílias inteiras, de 29 nacionalidades, a maioria vinda da África. Fugida da miséria, de alguma guerra ou simplesmente em busca de melhores oportunidades em uma terra nova. Kinvunzila é um agente comunitário de saúde. Algumas vezes por mês, vai ao local saber se seus moradores passam bem. Cobra que as crianças sejam levadas para vacinar e que as mulheres grávidas não faltem às sessões de pré-natal. “Voltei, meu amigo. E o Abuba? Ele está bem?”
O corpulento Seixas deixa escapar um suspiro. Cearense de Sobral – “a cidade do Renato Aragão” –, Seixas é monitor na Casa há mais de dez anos. Ficou preocupado quando, na sexta-feira anterior, o miúdo Abuba começou a se queixar de enjoos e dores de cabeça. O rapaz, segundo conta, sofre de alguma doença ainda incerta. Aguarda o resultado de exames. Seu mal-estar começara pouco depois de tomar um remédio receitado na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Sé, distante poucas ruas dali. No mesmo dia, Seixas o levou a um hospital na Zona Norte. “Não pude acompanhar a consulta. Mas deixei lá outro angolano que falava a mesma língua que ele”, diz Seixas – em Angola, além do português, falam-se ao menos outras 20 línguas. “Hoje, o Abuba estava sentado ali, no murinho do jardim, meio desanimado.”
117.700 imigrantes chegaram ao Brasil em 2015. Os haitianos foram o maior grupo e representaram 12% do total
Não demora, Abuba aparece no pátio – a passos lentos, com chinelo de dedo e camisa azul fechada até o último botão. Traz uma malinha azul dependurada por um ombro só, carregada com exames e receitas médicas. “Bonne santé!” (“Boa saúde!”), cumprimenta Kinvunzila, numa saudação em creole, uma língua estrangeira para os dois, mas comum no bairro (ela é falada pelos muitos haitianos que vivem por lá). A conversa segue em ngola, a língua que Abuba aprendeu com os pais na infância. Um dos muitos dialetos falados no norte de Angola – a região onde Abuba nasceu e de onde Kinvunzila fugiu na adolescência.
José Kinvunzila tem 37 anos e modos polidos. Nasceu num vilarejo chamado Maquela do Zombe. Fugiu dali para o Congo, país vizinho, aos 17 anos, acompanhado pela mãe. A família tentava escapar à Guerra Civil Angolana – o conflito que vitimou seu pai e espalhou seus parentes por todo o continente. No Congo viveu até os 22 anos e se formou enfermeiro. “Meu sonho era fazer medicina”, diz. A vida seguiu outro rumo. Em 2002, quando a guerra acabou, ele e a mãe voltaram para Angola. Em seu vilarejo natal, havia pouco o que recuperar. As casas tinham sido destruídas, seus parentes estavam mortos. Decidiram tentar a vida na capital, Luanda. “Mas logo ela percebeu que eu deveria sair do país.”
55% é o aumento no número de imigrantes a chegar por ano ao Brasil, entre 2011 e 2015 Kinvunzila veio para o Brasil em 2016. Trouxe o diploma de enfermagem e o desejo de trabalhar na área da saúde – como fizera, por um tempo, em sua Angola natal. A Casa do Migrante, que hoje visita a trabalho, foi um de seus primeiros destinos no país. Há pouco mais de um ano, soube que a UBS da Sé, no coração da capital paulista, precisava de novos agentes comunitários de saúde. Candidatou-se ao posto e conseguiu o emprego. “Você deve ter reagido mal à medicação”, diz Kinvunzila a Abuba em bom português (a língua oficial de Angola), depois de examinar os papéis do rapaz. “Volte ao médico e diga que teve uma reação à medicação. Diga que teve uma reação”, repete, com ênfase na última palavra. Abuba meneia a cabeça afirmativamente.
Kinvunzila veio para o Brasil em 2016. Trouxe o diploma de enfermagem e o desejo de trabalhar na área da saúde – como fizera, por um tempo, em sua Angola natal. A Casa do Migrante, que hoje visita a trabalho, foi um de seus primeiros destinos no país. Há pouco mais de um ano, soube que a UBS da Sé, no coração da capital paulista, precisava de novos agentes comunitários de saúde. Candidatou-se ao posto e conseguiu o emprego. “Você deve ter reagido mal à medicação”, diz Kinvunzila a Abuba em bom português (a língua oficial de Angola), depois de examinar os papéis do rapaz. “Volte ao médico e diga que teve uma reação à medicação. Diga que teve uma reação”, repete, com ênfase na última palavra. Abuba meneia a cabeça afirmativamente.
Todos os dias, cerca de 500 pessoas passam pela UBS da Sé. São pacientes em busca de vacinas, consultas agendadas ou alguma orientação sobre saúde. A unidade não sabe números exatos, mas estima que 10% dessa demanda seja gerada pelos imigrantes que vivem na região. São haitianos, chineses, angolanos e gente de várias partes da África. Além de serem atendidas no prédio da UBS, essas pessoas também recebem as visitas domiciliares de agentes como Kinvunzila. Eles fazem parte do programa Saúde da Família, a principal estratégia do governo federal, desde 1994, para expandir a atenção básica à saúde no país. Apesar do nome, a atenção básica se propõe uma tarefa complexa – compreender como vivem as pessoas e acompanhá-las em tempos de saúde, para prevenir doenças. Ou para evitar que seus males se agravem. O desejo é impedir que uma pressão arterial mal controlada culmine num infarto, por exemplo.
A cada agente é determinado um território – um grupo de famílias, em uma determinada região. A ideia é que ele trabalhe na mesma comunidade em que vive, fazendo visitas entre vizinhos. Essa tarefa se torna especialmente árdua quando famílias e agentes não falam a mesma língua. Quando cultura e idioma se chocam, a ajuda de imigrantes como Kinvunzila se torna providencial. Além de português com forte sotaque afrancesado, ele fala quicongo e esmerilha no ngola e no francês: “E falo um pouco de inglês. Mas assim, assim”, diz, agitando as mãos. É algo comum em Angola, “onde cada província fala uma língua”, descreve ele. Na região da Sé, há 6.100 famílias cadastradas no Saúde da Família. Kinvunzila tem, sob sua responsabilidade, 230 delas, que visita todo mês. “Mas o número sempre muda. Porque muita gente nova chega, muita gente vai embora.” São casas de imigrantes e também de brasileiros.
“A gente já vacinou o bebê”, diz um casal de haitianos logo que cruza com Kinvunzila em uma esquina. Ele caminhava ligeiro. Depois de falar com Abuba, tinha ainda 15 casas a visitar naquele dia. “Très bien (muito bem). Semana que vem, passo na casa de vocês.” Na geografia paulistana, as ruas por onde Kinvunzila circula compõem a Baixada do Glicério, um bairro central e deteriorado, formado às margens do Rio Tamanduateí. Para um visitante desavisado, passa bem por um enclave haitiano na cidade. “Ça va, mon ami”, cumprimenta um rapaz, enquanto Kinvunzila sobe uma ladeira.
A chegada maciça de haitianos a São Paulo começou em 2011, na esteira do terremoto que devastou o país no ano anterior. O fenômeno marcou uma mudança indelével no perfil migratório brasileiro. Até ali, despontava no Brasil a migração de bolivianos. O novo contingente de haitianos inverteu uma trajetória de queda: desde meados do século XX, o número de recém-chegados ao Brasil diminuía. Em 1940, segundo o IBGE, chegaram 2,1 milhões de estrangeiros ao país. Em 2011, foram 76 mil, dos quais 476 vinham do Haiti. Em 2015, os haitianos lideravam: eram 14.500, 12% do total de 117.700 recém-chegados.
Nas estatísticas oficiais, vinham seguidos por bolivianos, chineses e colombianos. E, à distância, por congoleses, angolanos e, mais tarde, por sírios. Rostos novos, atraídos pelo bom momento econômico do país. Aqui trabalhariam, criariam filhos e precisariam de serviços essenciais. “Eram culturas e rostos desconhecidos dos brasileiros”, diz Deisy Ventura, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo (USP). E com as quais o Poder Público tinha dificuldade para dialogar.
3% dos nascimentos registrados no SUS em 2014 em São Paulo eram de filhos de imigrantes Boa parte do trabalho de Kinvunzila consiste em suavizar esse contato. Sem muita cerimônia, ele se embrenha pelos corredores de cortiços e pensões mal iluminadas, poeirentas e úmidas. Onde um único quarto serve de morada a famílias inteiras e por onde o ar circula mal. Em cada casa, repete uma bateria de perguntas que variam conforme o interlocutor: “A senhora se lembra da consulta no dia 18?”, diz a uma moça magrinha, parada à porta de casa.“Le dix-huit”, repete a data, para que ela não se esqueça. Ou “o bebê já tomou todas as vacinas?” – pergunta ao pai de uma criança gordinha. As respostas alimentam as fichas dos pacientes – e, nas mãos de médicos e enfermeiros, tornam-se informações valiosas para orientar diagnósticos e tratamentos.
Boa parte do trabalho de Kinvunzila consiste em suavizar esse contato. Sem muita cerimônia, ele se embrenha pelos corredores de cortiços e pensões mal iluminadas, poeirentas e úmidas. Onde um único quarto serve de morada a famílias inteiras e por onde o ar circula mal. Em cada casa, repete uma bateria de perguntas que variam conforme o interlocutor: “A senhora se lembra da consulta no dia 18?”, diz a uma moça magrinha, parada à porta de casa.“Le dix-huit”, repete a data, para que ela não se esqueça. Ou “o bebê já tomou todas as vacinas?” – pergunta ao pai de uma criança gordinha. As respostas alimentam as fichas dos pacientes – e, nas mãos de médicos e enfermeiros, tornam-se informações valiosas para orientar diagnósticos e tratamentos.
A cada visita, Kinvunzila também dá informações diversas. Responde sobre a agenda dos médicos, sobre a chegada de medicamentos à UBS e sobre qual a melhor forma de conseguir encaminhamentos a especialistas. Algumas dúvidas nem sequer são sobre saúde – naquela terça-feira, já ao final da visita, um rapaz haitiano arriscou em francês: “E o Bolsa Família, tem como eu conseguir ?”. Kinvunzila titubeia um pouco antes de responder que voltaria dali a uns dias, com a assistente social.
Avançando por um corredor apertado, por onde caminha desviando de fios soltos, Kinvunzila chega ao quarto onde vivem Vikens Regulas, de 29 anos, com a mulher, Fara, e o filho, Theo. A criança, um menino com pouco mais de 2 meses, tirara o sono do casal: “Ele tomou uma vacina na coxa. Chorou a noite inteira”, diz Regulas, sorridente, enquanto convida o visitante a entrar. Uma cama de casal divide o espaço com fogão, TV e uma pia cheia de louça. Uma sequência de outros dez quartos segue corredor adentro, a maioria ocupada por famílias haitianas.
Regulas é pedreiro. Chegou ao país há um ano. Diz que aprendeu português na marra, perguntando a amigos com mais tempo de Brasil a tradução de palavras cotidianas. Dez meses depois, chamou Fara para segui-lo, do Haiti para São Paulo. Theo nasceu aqui. A conversa entre os dois homens acontece em francês. É Regulas quem responde às perguntas sobre a mulher, silente durante todo o diálogo. “O bebê está com as vacinas em dia?” Estava. “E com a mãe? Está tudo bem?” Também. “Mas ela não consegue amamentar, o bebê toma leite em pó”, responde Regulas. Quando chegou ao Brasil, o rapaz pouco sabia sobre como procurar ajuda médica. No Haiti, diz ele, tudo é pago. Achou que por aqui também seria.
90% das mães paraguaias, haitianas, bolivianas e nigerianas em São Paulo deram à luz na rede pública

Os mesmos amigos que ensinaram português o orientaram a procurar cuidados na UBS onde Kinvunzila trabalha. Quando o agente começou a visitá-los, Regulas se sentiu reconfortado. Não que temesse ficar doente: “Sou forte, não adoeço. E Theo puxou ao pai”. Mas, enfim, tinha alguém de confiança a quem direcionar suas dúvidas. “Além disso, ele fala francês. Isso é bom para a Fara, que ainda não aprendeu o português”, diz. É com afeto que Regulas se despede de Kinvunzila: “Volte quando quiser, meu amigo”.
Por anos, grassou na legislação brasileira a concepção de que o estrangeiro era um elemento potencialmente perigoso. A expressão máxima dessa visão foi o Estatuto do Estrangeiro. O documento, de 1980, foi concebido durante a ditadura militar e tratava de medidas a ser tomadas para proteger as fronteiras do país: “O estrangeiro, na época, era a presença indesejada. Era o ‘comunista’ cuja proximidade se temia”, diz o padre Paolo Parisi, coordenador da Missão Paz – a instituição católica que administra a Casa do Migrante e mantém um centro dedicado a estudar esses fluxos.
No campo dos direitos básicos, essa mentalidade deu uma guinada progressista com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), em 1988. Ele tem por princípio atender a todos, brasileiros ou não. “Na concepção de alguns gestores, isso significava que o imigrante teria acesso aos mesmos serviços que o restante da população. E que isso bastaria” diz Deisy, da USP. O quadro tornaria a mudar a partir de 2011, na esteira do fenômeno haitiano. Hoje, esse fluxo de novos imigrantes declina, afugentado pelos reveses econômicos que o Brasil enfrenta. Na época, causou impacto o bastante para interferir no desenho de políticas públicas: “Essa mudança se refletiu na criação de iniciativas municipais específicas para imigrantes”, diz Deisy. Elas são pautadas pela percepção de que há elementos a dificultar o acesso do imigrante aos serviços de saúde: “O imigrante que fica doente não sabe como procurar ajuda”, diz Bernardo Malangu, um angolano de costas muito retas e sorriso perene. Desde novembro de 2016, Malangu trabalha como agente de saúde na UBS Humaitá, no centro de São Paulo – uma unidade cercada por duas casas de acolhida onde são recebidos, sobretudo, refugiados africanos. “Sempre me perguntam: a consulta é cara? Quem chega ao Brasil não sabe que o SUS é gratuito.”
10% dos usuários da UBS Sé, no centro de São Paulo, são imigrantes, segundo a estimativa da unidade
Em Angola, Malangu trabalhou em empresas petrolíferas e, mais tarde, como farmacêutico. Fugiu do país temendo perseguição política. Vieram com ele a mulher e os dois filhos pequenos. Conhece a experiência de estar perdido em terra estrangeira. “Quem não fala bem o português teme vir ao médico. É preciso insistir, acompanhar de perto”, diz. E quem está no Brasil de maneira irregular teme se complicar com a lei ao buscar atendimento.
Em São Paulo, as discussões sobre as experiências dos imigrantes resultaram, no final de 2016, na criação de uma Política Municipal para essa população. Ela estabelece que é responsabilidade da Secretaria Municipal da Saúde facilitar o acesso do imigrante aos cuidados médicos. Nacionalmente, a grande mudança foi a substituição do Estatuto do Estrangeiro pela Lei de Migração – uma nova legislação federal que pretende conferir direitos aos imigrantes –, em vigor desde novembro.
A política paulista inclui um artigo para estimular a contratação de agentes imigrantes. Foi um reconhecimento oficial da importância desses profissionais, que surgiram bem antes de a lei ser redigida. Eles começaram a ser contratados ainda nos anos 2000, por iniciativa dos serviços de saúde, atribulados que estavam com o frenesi de vozes e sotaques que ia dar em suas portas. Há oito agentes em São Paulo. Jorge
Gutierrez é o que está na ativa há mais tempo.
8 dos agentes comunitários de saúde que trabalham em São Paulo são imigrantes – vêm de Angola ou da Bolívia
 “Pai, mãe, os agentes de saúde chegaram a sua casa. Abra sua porta para a saúde.” Há 12 anos, o slogan na voz de Gutierrez soa pelas casas e oficinas do Bom Retiro, um bairro central da cidade. Gutierrez – ou Don Jorge, como é chamado pelos amigos e conhecidos de bairro – tem 62 anos, cabelos grisalhos e óculos de aros pretos. Veio da Bolívia para o Brasil em 1980, tratar uma lesão que sofrera durante uma partida de futebol – diz que jogou como profissional em seu país natal. Desacreditado pelos médicos, fixou residência por aqui. Virou costureiro e mandou buscar a mulher e os filhos em La Paz. Em 2005, Don Jorge se tornou parte da segunda geração de agentes comunitários bolivianos contratados pela UBS do Bom Retiro, um bairro com tradição na acolhida de imigrantes. A iniciativa respondeu a uma dificuldade enfrentada pela unidade no início dos anos 2000. “Não conseguíamos dialogar com essa população de imigrantes por causa do idioma e porque não tínhamos acesso às oficinas de costura”, diz Clélia de Azevedo, gerente da unidade.
“Pai, mãe, os agentes de saúde chegaram a sua casa. Abra sua porta para a saúde.” Há 12 anos, o slogan na voz de Gutierrez soa pelas casas e oficinas do Bom Retiro, um bairro central da cidade. Gutierrez – ou Don Jorge, como é chamado pelos amigos e conhecidos de bairro – tem 62 anos, cabelos grisalhos e óculos de aros pretos. Veio da Bolívia para o Brasil em 1980, tratar uma lesão que sofrera durante uma partida de futebol – diz que jogou como profissional em seu país natal. Desacreditado pelos médicos, fixou residência por aqui. Virou costureiro e mandou buscar a mulher e os filhos em La Paz. Em 2005, Don Jorge se tornou parte da segunda geração de agentes comunitários bolivianos contratados pela UBS do Bom Retiro, um bairro com tradição na acolhida de imigrantes. A iniciativa respondeu a uma dificuldade enfrentada pela unidade no início dos anos 2000. “Não conseguíamos dialogar com essa população de imigrantes por causa do idioma e porque não tínhamos acesso às oficinas de costura”, diz Clélia de Azevedo, gerente da unidade.
Foi uma aplicação engenhosa de uma ideia que já se mostrara bem-sucedida em outros contextos. Os agentes de saúde (em sua versão com profissionais brasileiros) surgiram no Brasil na década de 1980, como uma iniciativa isolada em algumas cidades do Nordeste. Ao longo das décadas seguintes, se espalharam pelo país, conforme se expandia a estratégia Saúde da Família. Chamaram a atenção de observadores internacionais: em 2012, a revista britânica BMJ – uma das mais importantes publicações médicas do mundo – publicou um editorial elogioso sobre o modelo de cuidados brasileiro. E recomendou que os gestores britânicos se inspirassem no que era feito por aqui.
Como são membros da comunidade em que trabalham, os agentes ajudam a criar laços de confiança. Nessa tarefa, Don Jorge contou também com seu talento com a voz – ele mantinha um programa sobre futebol em uma rádio comunitária. Percebendo a resistência das pessoas a receber as visitas dos agentes, decidiu inserir dicas sobre saúde no meio da programação. Foi certeiro: mesmo naquelas ocasiões em que as portas das casas e oficinas não se abriam, a voz de Don Jorge alcançava os moradores pelas ondas do rádio. Acostumadas com aquela presença, as pessoas logo entenderam que os agentes estavam ali para ajudá-las: “Foi como se tivéssemos descoberto a palavra mágica do Ali Babá”, diz. É difícil mensurar o impacto dessa ajuda estrangeira. Mas suspeita-se que ela tenha interferido em indicadores importantes: “Hoje, todas as crianças com menos de 1 ano de idade do bairro estão com as vacinas em dia”, diz Clélia. “Há dez anos, esse índice mal chegava a 70%.”
Jeanneth Orozco entende como poucas a importância dessas ações. Logo que chegou ao Brasil, em 2004, Jeanneth se meteu a costurar – ainda que nunca tivesse pregado sequer um botão em toda a vida. Queria juntar dinheiro logo e voltar para a Bolívia com algumas economias. Mas as costuras não iam bem. No primeiro ano o dinheiro não entrou. Nem no segundo. E Jeanneth foi ficando. “Na época, as oficinas eram imensas. Ocupavam um andar inteiro de um prédio. Umas 30 ou 40 pessoas costurando sob o mesmo teto”, diz, gesticulando animada. Era no rádio que ela procurava refúgio da rotina exaustiva de trabalho. E foi pelo rádio que Jeanneth conheceu Jorge e suas dicas de saúde. Não muito depois, ficou grávida. Sentiu medo: “Eu tinha vergonha, não falava português muito bem. E se o médico não me entendesse?”. Os agentes de saúde da época, bolivianos como ela, a ajudaram a superar esse temor. E fizeram mais – em 2009, quando a UBS decidiu contratar novos agentes, sugeriram que ela se candidatasse a uma das vagas. Jeanneth, insegura, fez o teste e conseguiu o emprego.
Hoje, acompanha a saúde de cerca de 200 famílias que vivem nas cercanias da UBS: “Dificilmente alguém se recusa a me receber”, diz, satisfeita. Conhece de cor as histórias de algumas. É o caso de dona Domingas, uma peruana com mais de 30 anos de Brasil. Jeanneth entra na casa com a liberdade de quem é velha conhecida: “E a Cínthia, está bem? Os remédios dela chegaram”, diz, passando os olhos pela oficina de costura da família – um ambiente quente que também faz as vezes de sala de estar. Domingas já se acostumou ao jeito da amiga. E gosta da atenção que ela devota aos seus cinco filhos: “Ela ouve minhas queixas de saúde e também meus desabafos”, diz. “A gente se conhece há dez anos. Ela viu dois dos meus filhos nascer.” Jeanneth sorri: “Não, Domingas. Quando a gente se conheceu, esta aqui já tinha nascido”, afirma, apontando para uma das meninas num dos cantos da sala. “Será?”, Domingas se atrapalha. “É sim. Aliás, não esquece da consulta da Cínthia.”
***
Por Rafael Ciscati na Época.