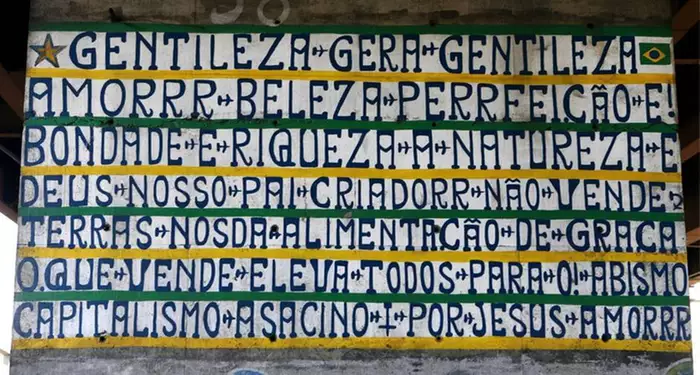“Será que as pessoas sabem o que é viver assim?”, reflete Luiz Carlos Ceccopiere, 59, ao puxar memórias dos 30 anos que passou ao relento em São Paulo, “magro, sujo, de barba, sempre de ‘fogo’, tomando três corotes [pequenas garrafas de cachaça] por dia”.
Ele está de volta à rua. Mas agora vem de banho tomado, alimentado, após dormir sob o teto de uma casa no bairro da Aclimação para dependentes químicos em tratamento. Luiz integra uma equipe de ex-moradores de rua contratados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos para conhecer as 16 mil pessoas da cidade que vivem ao relento, como ocorria com ele no passado. Pelo trabalho, ganha R$ 500 por mês, mais vale-alimentação e transporte.
Numa tarde abafada de quarta-feira, gasta a sola de seus tênis vermelhos no centro, falando com quem está na condição que ele deixou para trás. Enquanto conversa com o repórter Joelmir Tavares durante uma pausa, vê passar um homem cambaleante, que mais à frente perde o equilíbrio e cai sentado na calçada da Sala São Paulo.
O pesquisador chega perto e o ouve. Sem revelar o nome, o homem conta que não tem casa. Com HIV, sente dores e foi buscar remédio, mas não encontrou. Ele não quer que a reportagem se aproxime. O papo segue por uns minutos, até que o homem chora. Luiz põe a mão em seu ombro. Sem ter muito o que fazer, ele deseja sorte ao passante, que segue. “Falei com ele que não pode ficar assim, que tem que procurar uma ajuda, se cuidar direito”, relata.
Os motivos para chegar às ruas variam. Luiz pertenceu ao grupo dos alcoólatras. A família “não aceitou” a dependência, conta. “Mas nem posso culpar o álcool, porque se não quisesse não teria começado.” Aí veio a criminalidade e ele ficou 25 anos preso, dez deles no Carandiru, por condenações que não detalha (“tem assalto, homicídio…”). Saiu sem ter para onde ir.
“Mas olha… a rua proporciona coisas. Tem capeletti, lasanha, eles dão Dolly [refrigerante]. Tem muita doação… Só que é o pior lugar pra estar.” Ele vem se reaproximando dos parentes, que vivem no litoral de SP. “Vou pra lá, passo dois dias, vou pra praia com sobrinhos, irmãos…”
Em uma das escadas da estação da Luz, Darcy da Silva Costa, 48, também pesquisador, encontra um homem sentado ao lado de um cobertor. “Seu João, há quanto tempo o senhor tá na rua?”, pergunta, de prancheta em punho, a João Feitosa da Silva, 74. Ele diz nem se lembrar mais. O motivo de estar ali: abandono. “A ‘muié’ morreu e os filhos [faz gesto indicando que foram embora]. O problema foi esse, não teve outro.”
A maioria das pessoas não gosta de falar sobre a razão de terem chegado à situação. E não é raro inventarem diferentes versões. “Elas podem ora encarnar um papel trágico, contar uma história triste, ora querer demonstrar um espírito aventureiro”, diz Luana Bottini, 38, coordenadora na secretaria da área de políticas para a população em situação de rua. “Entrar em contato com o trauma é complicado.”
“Geralmente é resultado de uma grave ruptura familiar, como separação, briga, perder a mãe, o filho”, diz o psicanalista Jorge Broide, 61, um dos supervisores da pesquisa. Pessoas que aparentam estar sob efeito da droga nem são abordadas pela equipe. Poucas querem se abrir.
Na entrevista na Luz, Seu João é questionado se faz algo para se divertir. “Nada. Não tem.” Com o olhar perdido e a fala meio confusa, ele mostra a carteira com os documentos e o cartão do banco. Diz que recebe R$ 900 de aposentadoria. Então pode, por exemplo, alugar um quarto? “Eu posso, mas ele [quarto] vai ficar lá?”
O pesquisador Paulo (de pé), enquanto Darcy ouve seu João (sentado na escada). Foto: Karime Xavier / Folhapress.
Reconhecer a rua como única opção de “casa” é compreensível, segundo Broide. “A pessoa tem assistência, recebe a ajuda das ONGs que distribuem comida, pode dormir em abrigo. Ela consegue sobreviver. E vai ficando cada vez mais dependente dessa vida”, diz o psicanalista. “Mas é uma vida dura: o cara tá no limite da morte e da violência o tempo todo.”
Luana completa: “A rua é uma adrenalina 24 horas por dia. E isso também vicia. A pessoa se adapta: aprende a ter um cachorro do lado para protegê-la, escolhe a melhor marquise para dormir. O mais difícil e humilhante é entrar em situação de rua, mas depois ela aprende a lidar”.
Além de Luiz e de Darcy (que está há dois anos “sem dormir em maloca”, ou seja, em barraca improvisada), a equipe do dia tem o mineiro Paulo César, 40, em São Paulo há cinco anos (“já rodei até não querer mais”, diz, revelando o plano de passar um tempo no Rio de Janeiro). Darcy hoje aluga um quarto em Osasco com o auxílio de R$ 300 da prefeitura da cidade; Paulo mora em um abrigo na Barra Funda.
Numa noite de setembro, os pesquisadores tiveram a companhia do secretário municipal de Direitos Humanos, Eduardo Suplicy, 74, na ida à favela do Cimento. Ele quis ver o trabalho de perto na comunidade, que fica perto do viaduto Bresser, na Mooca.

Marivaldo da Silva fala com Eduardo Suplicy em sofá na calçada perto da favela do Cimento. Foto: Karime Xavier / Folhapress.
Na chegada, o ex-senador encontra o pesquisador Manoel Lucimar, 49, agachado na calçada conversando em francês com um haitiano que perambula por ali e não tem moradia. O acriano, que conta ser formado em administração e domina o idioma, viveu na rua até o ano passado, quando conseguiu hospedagem na casa de um parente em Taboão da Serra.
No censo, ele encontra resistência por tocar em lembranças “dolorosas”, diz. De um entrevistado ouviu: “Acho que a prefeitura não devia mexer nos sentimentos dos outros”. O próprio Manoel, diante da equipe, sempre silenciou sobre seu passado.
Apontando para os entrevistadores que cercam Suplicy, Jorge Broide descreve: “Um fala francês, o outro inglês, esse é um grande poeta, aquele um baita cozinheiro, praticamente um chef”.
Sem seguranças ou cobertura policial, o grupo segue a caminhada. E chega até Marivaldo Amparo Reis da Silva, 26, que está deitado em um sofá na calçada. Ao lado, dez homens descansam no chão, rentes ao muro, perto de montes de lixo. Ele abre espaço para o petista sentar.
Baiano de Jequié, Marivaldo está com passagem de ônibus comprada para o dia seguinte. “Vou voltar pra lá. Com essa crise, não tô conseguindo nada. Tá mais difícil”, reclama o operário da construção civil. Luana chega na hora em que ele pede ao secretário dinheiro “pra comprar um lanche” na viagem.
“A gente diz [a todos da nossa equipe] que o melhor é não dar… Não é exatamente o nosso papel, mas às vezes não tem muito o que fazer”, diz ela, enquanto Suplicy entrega ao baiano uma nota de R$ 5. Marivaldo agradece satisfeito, como quem enxerga uma esperança. “Tem que pôr Jesus na frente, tem que pôr Jesus na frente”, diz, olhando para o alto.
***
Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.