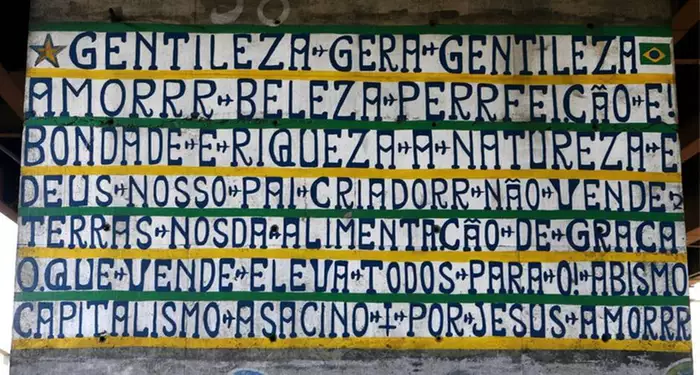Djan enxerga o picho como uma forma do jovem marginalizado “sair da invisibilidade social na qual ele vive” e “retomar a cidade”. Em entrevista ao EL PAÍS, ele afirma que o picho é uma resposta para a segregação espacial que existe em São Paulo. “São Paulo é uma cidade de muros entendeu, não é construída para as pessoas da periferia ocuparem”, afirma. Nesse contexto de desigualdade social, a pichação seria uma “reivindicação do uso público da cidade, que é cada vez mais privada”. “Quando que um jovem da periferia teria a possibilidade de escrever o nome dele no topo de um prédio do centro? Só se ele fosse uma empresa, um banco”, diz.
Djan começou a pichar com 12 anos, e logo no seu primeiro “rolê” foi pego pela polícia e levou “um banho de tinta”. “Eu sempre fui um moleque que gostou de radicalidade, era briguento, moleque de rua mesmo, sabe”, afirma. Para ele, o picho foi a ferramenta encontrada para canalizar toda a energia e as frustrações que acompanham “o jovem morador da periferia“. “O picho trabalha com a questão da transgressão, do reconhecimento, da radicalidade, de você afrontar a polícia diretamente. Existe esse enfrentamento, e não é só com a polícia, é com a sociedade também. Isso para um jovem da periferia é muito motivador”, diz.
O pichador coleciona processos judiciais. “A gente que picha tem que se habituar com essa realidade da consequência criminal né? De responder processo, ir em delegacia, fórum, falar com juiz, tomar canseira de delegado. Isso faz parte, é uma realidade que não vai mudar”, afirma.
O picho de escalada, praticado por ele e outros pichadores, por vezes cobra um preço alto. “Já sofri algumas perdas, poucas, mas pesadas”, afirma. “Temos dois integrantes que morreram pichando Cripta [o nome do grupo do qual faz parte]. Então a gente carrega no nome do grupo esse peso de duas vidas, dois caras que deram a vida pelo nome do nosso grupo”. O primeiro, em 2007, era conhecido como Flip de Guarulhos, que caiu do segundo andar de um prédio e teve fratura frontal no crânio. Ele ficou dez dias internado mas não resistiu. “E agora mais, recente em 2014, o LCT que caiu do sexto andar de em edifício na República e não teve nem chance”, lamenta Djan.
“Acho que conceitualmente o picho vale mais do que muito trabalho aí de nomes renomados da arte contemporânea, e da street art”, alfineta Djan. Enquanto a maior parte dos artistas contemporâneos “vieram de escolas e faculdades renomadas”, o pichador “tem seu processo de legitimação na rua, pela transgressão”. “Às vezes um picho na rua tem muito mais a dizer do que uma tela dentro de uma galeria, que pode ser um trabalho apenas decorativo, sem discurso”.
***
Por Gil Alessi no El País.